A cada eleição é assim: um candidato é eleito parlamentar com um número expressivo de votos. Com isso, graças ao que determina a confusa legislação eleitoral, traz consigo nomes pouco votados para o parlamento. Gente bem votada reclama porque não foi eleita, embora ostentando mais sufrágios que os vencedores. O povo não entende o mecanismo que viabiliza essa situação. Forma-se um caldo de protestos e o sistema proporcional é posto em xeque.
Enéas Carneiro foi eleito e viabilizou que personagens desconhecidos fossem ter assento na Câmara Federal. Desta vez foi Tiririca. No entanto, por ser este um palhaço e os seus colegas de chapa serem pessoas de visibilidade no ambiente político, a grita contra o sistema proporcional foi ainda maior. A ideia que se fixou foi a de que políticos sem voto usaram um artista para atrair o eleitorado, enganando-o. Usaram as regras do ordenamento eleitoral para alcançar um resultado politicamente fraudulento. O hermético Direito Eleitoral foi meio para o embuste político, para a fragilização da legitimidade democrática.
Porém, ao contrário do que se afirma, o mecanismo de eleição proporcional, de origem belga, adotado há muito no Brasil, e consagrado pela Constituição de 1988 (art. 45), é bom. Baseia-se em uma premissa bastante razoável: as minorias têm o direito de participar da composição dos parlamentos. As correntes mais representativas do pensamento político devem estar presentes neles. Contempla, assim, a noção de pluralismo político, esteio da República (art. 1º, inciso V). É, apesar dos pesares, melhor que qualquer outro método eleitoral conhecido.
O sistema distrital, que a ele é apontado como alternativa, é, em rigor, um modo majoritário de escolha. Nas atuais circunscrições — os estados e os municípios — seriam feitos cortes que traduziriam as frações correspondentes aos distritos. Estes seriam tantos quantos fossem as cadeiras para as assembleias legislativas, para as câmaras municipais e federal. Nesses distritos, o candidato mais votado seria eleito e representaria a comunidade respectiva. Fácil.
É realmente um modo interessante de seleção das cadeiras. É tradicional no Reino Unido e nos Estados Unidos. Tem a vantagem de ser aparentemente simples. Aparentemente, apenas. Isso porque o corte dos distritos, a sua identificação, é uma operação que demandará remanejamento a cada pleito, ou pelo menos a cada censo populacional. As proporções de eleitores dentro de uma mesma cidade e de um mesmo Estado são variáveis conforme a mobilidade demográfica e o crescimento populacional. Isso imporá atualizações permanentes e reformatações constantes de distritos.
Mais. Como as cidades, os bairros e as zonas eleitorais dificilmente conformarão o número de eleitores correspondente a uma vaga, haverá a necessidade de dividir cidades, juntar bairros etc. O mosaico territorial será objeto de disputas, pois do desenho dele decorrerão facilidades ou dificuldades para candidatos (e, por conseguinte, para os partidos). Isso mostra que o sistema distrital é de uma complexidade subestimada. Esse é um complicador pouco lembrado e que pode ser uma ferramenta de distorções da representatividade. Basta controlar o desenho do distrito para se fraudar, por meio indireto, a formação da maioria. Os norte-americanos têm até um nome para isso: gerrymandering.
Mas não só. Imagine-se algo perfeitamente factível. Que num determinado estado, que elege oito deputados federais, um partido tenha 35% do eleitorado. Isso o faria ter direito a pelo menos duas cadeiras, no sistema proporcional. No entanto, nos distritos, uma média de tal ordem pode importar derrota em todos eles. Candidatos com 35% de votos serão frequentemente batidos em cada uma das eleições distritais. Mais de um terço dos eleitores ficaria sem representação, nessa hipótese.
Outra coisa. O debate das eleições majoritárias tende a levar em consideração temas locais. O distrito precede geograficamente o município, o estado e a União. Logo, a pauta nacional será ainda mais fragilizada nas eleições desse tipo, que tenderão a centralizar os assuntos de interesse de uma comunidade específica. Boa parte das teses transcendentes de fronteiras locais — como as de interesse de negros, índios, homossexuais, mulheres, aposentados etc — pode ficar sem representação, porque os votos distribuídos territorialmente não farão, necessariamente, as maiorias distritais.
Também há de se notar que esse sistema fortifica lideranças locais em relação às lideranças de categorias. O Congresso é hoje repleto de representantes de professores, bancários, empresários, fazendeiros, que foram eleitos em seus estados porque foram capazes de aglutinar votos do seu setor espalhados pelo território estadual inteiro. Ao segmentar-se esse mesmo território, dificilmente conseguirão êxito, já que a liderança local se imporá, naturalmente, sobre elas, que têm muitos votos, mas pulverizados em larga base, em diversos distritos.
Alemanha e México adotaram o sistema distrital misto
Diante dessa série de objeções, há moderados que propugnam a modalidade chamada distrital mista, que se pratica na Alemanha e no México. Em grosseira síntese, a metade dos eleitos seria escolhida majoritariamente. A outra metade, proporcionalmente. A opção, todavia, antes de solucionar, agrava o problema. O pior de ambas as técnicas é juntado.
Em razão de ser disponibilizada a metade das vagas para a eleição majoritária, os distritos terão de ser maiores (o que elevará sobremaneira o custo das campanhas, contrariando uma das principais bandeiras dos defensores do sistema distrital). De outro lado, a chance de as minorias possuírem representação será reduzida, porque com metade das vagas disponíveis, será mais difícil alcançar uma delas. No exemplo das oito cadeiras, agora reduzidas a quatro, cada assento terá de ser ocupado por 25% do eleitorado. A eleição proporcional ficará parecida com a majoritária. Quem tinha de ter 12,5 % dos votos para alcançar um assento em oito, agora terá de fazer o dobro, para ter um em quatro.
Agregue-se, a tudo isso, que o sistema misto traz o fator complicador de o eleitor ter de proferir dois votos: um para escolher o representante do seu distrito (majoritário); o outro para escolher o representante do conjunto da circunscrição inteira (proporcional). O que era imaginado como um meio para facilitar as eleições (o sistema distrital), torna-se, no final, uma operação em dois tempos, de difícil compreensão para o eleitor.
Os regimes, portanto, têm vantagens e desvantagens. Um debate sincero tem de partir da razoabilidade de argumentos dos dois – ou três - lados. Mas há algo que parece ser consensual: a implantação do sistema distrital, ainda que híbrido com o proporcional, demanda reformas constitucionais. Tais mudanças, somadas a outras de igual envergadura, ostentam o pomposo nome de Reforma Política. Em tese, são possíveis, mas demandam voto de três quintos dos parlamentares de cada Casa legislativa federal, em dois turnos (CF, art. 60, parágrafo 2º). A chance de uma alteração que tal vir a ocorrer é baixa, dado que a resistência natural a ela é força bastante para impedir o seu advento.
A curto prazo, portanto, a manutenção do sistema proporcional se impõe. Até que se forme um consenso parlamentar sobre o sistema distrital (puro ou misto) a mecânica determinada pela Lei Maior prosseguirá sendo a proporcional. O que não é viável, todavia, é que esta fique como está, que não se aperfeiçoe. É hora de o Direito ajudar a política. É hora de descomplicar o sistema proporcional, repleto de termos matemáticos como quociente, médias e sobras, de difícil apreensão pelo eleitorado.
Extinção das coligações proporcionais reduziria mazelas
Alguns melhoramentos nessa direção são deveras simples. Podem ser feitos mediante alteração legislativa ordinária. A extinção das coligações proporcionais é algo a se pensar nesse contexto. Não resolverá todos os problemas, mas ajudará a diminuir a gravidade das mazelas que constrangem o sistema político brasileiro.
A Constituição assinala, textualmente, que as coligações são possíveis (art. 17, parágrafo 1º, com a redação dada pela Emenda Constitucional 52). Todavia, é evidente que a viabilidade delas se liga ao sistema majoritário. Para eleger alguém nele é preciso ter maioria, o que impõe alianças. O mecanismo proporcional, por outro lado e por definição, é avesso às coligações, que distorcem as teses que os partidos têm por essência (pelo menos deveriam ter). Embora o bom senso as repugne, essas coligações proporcionais só são admitidas porque aqui a lei expressamente as autoriza (Código Eleitoral, art. 105 e Lei 9.504/1997, art. 6º). Uma esquisitice jurídica, para dizer o menos.
É verdade que as coligações no regime proporcional existem em outros lugares, como Bélgica, Bulgária, Chile, Dinamarca, Israel, Polônia e Suécia. No entanto, como praticadas no Brasil são uma aberração.
Para começar, permite-se aqui o voto na legenda que está coligada. Ou seja: um voto em um partido é um voto para todos os partidos coligados, seja qual for a diretriz política de cada um deles.
As estranhezas estão só começando. Como no Brasil, as eleições estaduais e federais não são verticalizadas (a já mencionada EC 52 fulminou a exigência jurisprudencial de conformidade entre coligações estaduais e nacionais), quem vota em um candidato a deputado federal para prestar apoio ao governo federal, pode, sem desejar, eleger um outro, de oposição. Partidos diferentes, com coligações diversas no plano nacional e regional, produzem essa distorção.
A existência de coligações proporcionais fulmina qualquer chance de formação de programas partidários coerentes. Comunistas e liberais podem se abraçar e eleger um social-democrata. Talvez esse exemplo não seja bom, pois os nomes dos partidos perderam a capacidade de identificar os seus conteúdos. Todavia, embora as ideologias estejam em desuso, os partidos ainda costumam ter um perfil de atuação identificável. Então, um grêmio que faz a defesa da livre iniciativa e abertura de mercados e um de pregação mais estatizante, dirigente, podem se congregar e, ao final, o eleitorado de cada um deles pode eleger um parlamentar indiferente a tais matérias, filiado a uma terceira legenda coligada. É a chapa da traição ao eleitor, que precisa acabar.
Se os partidos tiverem de contar apenas com os votos dos apoiadores de suas teses, ainda que persista a cultura personalista — especialmente o costume de votar em candidatos ao invés de programas —, haverá uma tendência no sentido de que o eleitor associe determinadas pautas às siglas, que, por sua vez, se apoiarão em ideias caras aos seus votantes, pois será esta a única chance de fidelização de uma parcela do eleitorado. É um círculo virtuoso que se engendra.
Há outro proveito. Os partidos, que segundo o entendimento judicial atualmente estabelecido, são os donos dos mandatos, terão o controle da substituição dos eleitos nos cursos respectivos. Hoje em dia, um deputado ou um vereador que seja indicado para assumir um cargo no Executivo, ou que seja eleito para um outro mandato, ou, ainda, que renuncie ou morra, será substituído por um outro escolhido por sua coligação. O mandato, que é “do partido”, será, nesse caso “da coligação”. Uma distorção evidente, pois traduz o mesmo tipo de problema antes relatado. Vota-se em um perfil de candidato, este se elege, mas outro, de pensamento diverso, pode herdar a cadeira.
Acrescente-se que, no lançamento dos nomes que disputarão os cargos, os partidos tenderão a ser mais cuidadosos do que têm sido até agora. Ou eles são eleitoralmente viáveis, ou irão fazer campanha — e gastos, portanto — em vão. Será o fim das legendas de aluguel, desprovidas de conteúdo ideológico, que servem para majorar o tempo de rádio e televisão para os partidos maiores e para albergar candidatos que só possuem viabilidade no regime de coligações, pois não representam proposta alguma.
Será mais fácil também ao eleitor perceber que, votando em certo candidato — como Enéas ou Tiririca — corre o risco de eleger um colega de partido dele. Os adversários poderão advertir isso. A lista dos postulantes do partido é mais fácil de identificar que a da coligação, que pode reunir vários grêmios (às vezes mais de dez), impedindo o conhecimento de todas as variáveis pelo homem médio.
A tentativa de se simplificar o sistema proporcional não deve, contudo, incidir no excesso de radicalizá-lo. A proposta de que o eleitor vote em listas partidárias fechadas, isto é, apenas no partido, elegendo os candidatos na ordem dada pelo grêmio político, converte as direções partidárias em instâncias de superpoder, depauperando, em demasia, a força da escolha do eleitor. Nações como a Argentina e Portugal praticam essa fórmula, que tem, todavia, a desvantagem de tirar do eleitor a opção entre candidatos do mesmo partido, mas com perfis diversos. Se o partido é bom, mas tem uma liderança polêmica e o eleitor é desgostoso dela, terá de se conformar com a ordem dada, sob pena de ter de votar em outra legenda, de perfil diverso. Isso não é bom.
Por conta disso, a extinção das coligações proporcionais é uma mudança básica, operável legislativamente, que se perfaz com maioria parlamentar simples, em turno único, em cada uma das Casas congressuais. Não é utópica. Embora não seja a cura de todos os males, pode melhorar substancialmente a estrutura política brasileira. De possível em possível, de simples em simples, os pacientes e os virtuosos fazem as suas revoluções pacíficas
Fonte: Conjur
Autor: José Rollemberg Leite Neto advogado, mestre em Direito pela Universidade Gama Filho, sócio do Eduardo Antônio Lucho Ferrão Advogados Associados, membro da Comissão de Reforma do Código Eleitoral, do Senado.



 07:59
07:59
 IDERO
IDERO
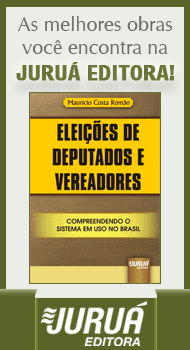






0 comentários:
Postar um comentário